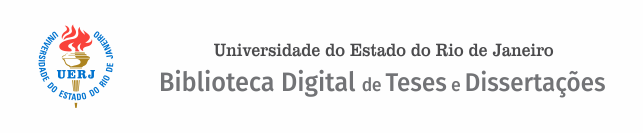| Compartilhamento |


|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4782| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Construção social do burnout no Brasil: medicalização da fadiga no trabalho e seus efeitos. |
| Título(s) alternativo(s): | Social construction of burnout in Brazil: medicalization of work fatigue and its effects. |
| Autor: | Vieira, Isabela Maria Magali Mello  |
| Primeiro orientador: | Russo, Jane Araujo |
| Primeiro membro da banca: | Zorzanelli, Rafaela Teixeira |
| Segundo membro da banca: | Azize, Rogério Lopes |
| Terceiro membro da banca: | Duarte, Luiz Fernando Dias |
| Quarto membro da banca: | Jardim, Silvia Rodrigues |
| Resumo: | Fadiga e estresse são, cada vez mais, uma marca da vida urbana e, sobretudo, de nossa relação com o trabalho. Nos anos 1970, um tipo particular de fadiga relacionada ao trabalho recebeu o nome de burnout ( combustão completa ). Originalmente objeto da psicologia, o burnout é considerado uma reação ao estresse crônico, tendo ganhado status de transtorno psiquiátrico em alguns países (sendo a Suécia o caso mais emblemático). Já a legislação brasileira o define como doença relacionada ao trabalho desde 1999. Porém, seu reconhecimento como tal é escasso, estando sujeito a um jogo de forças que envolve pesquisadores, profissionais de saúde, sindicatos e empresas. Esta pesquisa analisa a trajetória da categoria burnout no Brasil, investigando a ocorrência e possíveis efeitos do processo de medicalização/psicologização da fadiga no trabalho, através dos discursos técnico-científicos da medicina e da psicologia brasileiras sobre o burnout. Por meio de pesquisa bibliográfica, analisa-se esta produção científica quanto a características gerais, principais obras e autores, contexto de desenvolvimento e temas recorrentes. Contrariamente à tendência internacional de expansão conceitual, verifica-se que a pesquisa brasileira percebe o burnout da forma tradicional, como um problema quase exclusivo de profissionais de saúde e professores, traduzindo uma preocupação de ordem sociocultural ligada ao problema da regulação emocional central nas chamadas profissões de cuidado. Apesar do uso predominante do Maslach Burnout Inventory (MBI), chama a atenção a variabilidade da interpretação de seus resultados, geralmente indicando o burnout em termos de risco . Identifica-se uma tendência à pesquisa com estudantes (estudo considerado como atividade pré-profissional ). O interesse pelo burnout é compreendido também dentro do contexto cultural mais amplo de (re)valorização das emoções, ligado ao individualismo. Discute-se a ideia de que o burnout se estabelece como conceito não só devido à sua associação à noção de estresse (categoria cuja força é muito mais simbólica do que propriamente científica ), mas também devido a uma equiparação do hospital e da escola à organização (empresa), refletindo uma certa ideia de trabalho (o trabalho na empresa) e de trabalhador (o empreendedor ou executivo). Assim, é possível observar uma oposição implícita entre um modelo velho de organização do trabalho, associado à hierarquia e à burocracia (representado pela instituição hospitalar e escolar), e um modelo novo , de equipes multidisciplinares atuando em rede (representado pela Estratégia Saúde da Família, por exemplo). Nota-se ainda uma ambivalência quanto às transformações do trabalho, ora vistas como desejáveis e inevitáveis, porque resultado do progresso, ora como nocivas, porque produtoras de sofrimento e de perda de autonomia. Dessa forma, ao reunir uma série de valores culturais sobre a Pessoa e o trabalho, o burnout se constrói como crítica, mas também como uma espécie de antimodelo do trabalho e do trabalhador. |
| Abstract: | Fatigue and stress have increasingly become a hallmark of urban life and, above all, of our relation to work. In the 1970s, one particular type of work-related fatigue was named burnout ( complete combustion ). Originally an object of psychology, burnout is considered to be a reaction to chronic stress, having reached the status of a psychiatric disorder in some countries (Sweden being the most emblematic case). Brazilian legislation defines it as a work-related disorder since 1999. Scarcely recognized as such, however, burnout is subject to a kind of struggle involving researchers, health professionals, trade unions and companies. This study analyzes burnout s trajectory in Brazil, investigating the occurrence and possible effects of the medicalization/psychologization of work fatigue, by studying the technoscientific discourses of Brazilian medicine and psychology about burnout. By means of bibliographical research, we analyze this scientific production in terms of its general characteristics, main authors and works, context of development and recurrent themes. Contrary to the international conceptual expansion trend, we verify that Brazilian research perceives burnout in a traditional way, i.e., as a condition almost exclusive to health or education professionals, in a expression of sociocultural concerns related to the problem of emotional regulation central to the so-called helping professions. Despite the predominant use of the Maslach Burnout Inventory (MBI), there is a remarkable variability in the interpretation of its results, which generally indicates burnout in terms of risk . A trend in research with students is identified (study considered as pre-professional activity ). The interest in burnout is also understood in the broader cultural context of (re)valuing emotions, associated to the ideology of individualism. We discuss the idea that establishing burnout as a concept depends not only on its association with the notion of stress (category whose strength is much more symbolic than strictly scientific ), but also on the equivalence between the hospital or school and the organization (company), reflecting a certain idea about work (the work in a company) and the worker (the entrepreneur). So, we argue that there is an implicit opposition between an old model of work organization, associated to hierarchy and bureaucracy (represented by the hospitalar or educational institution) and a new model, characterized by multidisciplinary teams functioning as a network (represented by Family Health Strategy, for example). We also notice an ambivalence regarding work transformations, sometimes viewed as desirable and inevitable, because arising from progress, sometimes viewed as noxious, source of suffering and loss of autonomy. So, by gathering a series of cultural values about the Person and work, burnout is built as a critical notion, but also as a sort of antimodel of work and the worker. |
| Palavras-chave: | Burnout Work Social construction Medicalization Psychologization Stress Burnout Trabalho Construção social Medicalização Psicologização Estresse |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro Biomédico::Instituto de Medicina Social |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva |
| Citação: | VIEIRA, Isabela Maria Magali Mello. Construção social do burnout no Brasil: medicalização da fadiga no trabalho e seus efeitos.. 2017. 218 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas e Saúde; Epidemiologia; Política, Planejamento e Administração em Saúde; Administra) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/4782 |
| Data de defesa: | 30-Mar-2017 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| tese isabela maria magali mello vieira_2017.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.